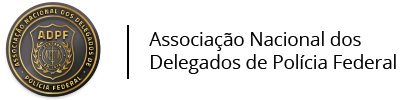Com interpretação equivocada, direito ao silêncio virou jabuticaba no país
A última semana foi marcada pelas discussões em torno da decisão, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 126.292, em que firmou-se o entendimento de que uma condenação em segundo grau de jurisdição pode ser executada imediatamente, sem a necessidade de aguardar-se o exame de recursos ao STJ e ao STF. Mas o objetivo do presente artigo é trazer a discussão outro tema, que tem relação direta com a presunção de inocência, que é a garantia contra a autoincriminação, outro exemplo das famosas jabuticabas jurídicas, fruto da interpretação sui generis dada no Brasil aos institutos jurídicos, que não encontram consonância no tratamento do tema em outros países, sobretudo aqueles tidos como paradigmas da nossa legislação.
Inicialmente, é importante destacar que não se descuida da importância do direito ao silêncio como imperativo civilizatório e importante limitador ao exercício da atividade de persecução penal, mas sim busca-se alcançar o real sentido do mesmo.
O direito ao silêncio decorre da garantia contra a autoincriminação, decorrência direta do nemo tenetur se deteger, que apresenta-se na Constituição Federal de 1988 ao artigo 5°, LXIII, nos seguintes termos: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.”
Na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), por sua vez, encontramos em seu artigo 8º, inciso 2, letra g, que garante a pessoa o “direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem a declarar-se culpado”. Trata-se pura e simplesmente do direito ao silencio, alçado ao status constitucional. Por outro lado, as interpretações feitas ao termo “permanecer calado” são dignas de um grande show de contorcionismo.
As origens do termo remontam à Idade Média, onde o objetivo máximo do processo penal era obter a confissão do acusado (a rainha das provas), tendo sido consagrado como o privilégio contra autoincriminação no leading case Miranda v. Arizona, [1] que deu origem ao conhecido “aviso de Miranda”, tão comum nos filmes policiais norte-americanos. Trata-se de uma garantia voltada a evitar confissões forjadas ou obtidas mediante tortura. Parece uma decorrência lógica.
No Brasil, a interpretação do “direito ao silêncio” previsto na carta magna ganhou tamanha elasticidade que já foi invocado para inúmeras situações, como por exemplo:
No HC 170.486/GO, relatado pelo ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 14 de junho de 2011, foi concedida ordem para impedir o comparecimento do paciente ao Instituto de Criminalística para o fornecimento de imagens, fazendo remissão inclusive ao Pacto de San Jose da Costa Rica.
O caso da Lei Seca (aplicação da Lei 11.705/08), que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para estabelecer uma quantidade mínima e precisa de álcool no sangue a partir da qual se torna crime dirigir, gerou precedente no STJ no sentido de que, com a nova redação, a dosagem etílica passou a integrar o tipo penal. Isto é, só se configurava o delito com a quantificação objetiva da concentração de álcool no sangue – que não pode ser presumida. A partir de então, só os testes do bafômetro ou de sangue podiam atestar a embriaguez. E o motorista, conforme o princípio constitucional, não estava obrigado a produzir tais provas. Em vez de tornar mais eficaz a repressão, acabou gerando impunidade, face à combinação entre restrição da prova da materialidade do crime. O legislador se viu obrigado a editar a Lei 12.760/12, também apelidada de “Lei Seca”, que passou a demandar no tipo penal apenas a alteração da capacidade psicomotora.
Outro tema relevante também é a questão do crime de falsa identidade, no caso do preso em flagrante que se identifica à autoridade policial com nome falso. Ainda na jurisprudência do STJ, o réu foi absolvido do crime de falsa identidade por ter se apresentado incorretamente e obtido soltura passageira em razão disso. A 6ª Turma considerou que o ato era decorrente apenas de seu direito à não autoincriminação, e não ofensa à ordem pública (HC 130.309).
O STF, por sua vez, em decisão antiga, decidiu que é direito do investigado ou do acusado, como consequência direta do princípio da não autoincriminação, não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo, o que gera impactos diretos em temas como o exame de reconstituição de crime, exames grafotécnicos e exames de DNA:
“O suposto autor do ilícito penal não pode ser compelido, sob pena de caracterização de injusto constrangimento, a participar de reprodução simulada do fato delituoso. O magistério doutrinário, atento ao princípio que concede a qualquer indiciado ou réu o privilégio contra a auto-incriminação, ressalta a circunstancia de que é essencialmente voluntária a participação do imputado no ato – provido de indiscutível eficácia probatória – concretizados da reprodução simulada do fato delituoso (HC 69.026, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 10/12/1991.”
Certamente a questão das intervenções corporais será objeto de profunda reflexão na jurisprudência a partir da consolidação da Lei 12.654, publicada em de 28 de maio de 2012, que altera dispositivos das Leis nos 12.037, de 1o de outubro de 2009 (identificação criminal), e 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), prevendo a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, cujo tema tratamos no artigo Identificação Criminal: Banco de perfil genético deve se tornar realidade no país.
Numa breve pesquisa no direito comparado, observa-se, a título de exemplo, que o Código de Processo Penal alemão (artigo 81a[2]) permite a retirada de amostra de sangue ou intervenções físicas similares com fins probatórios, desde que não prejudique a saúde do requerente. Em julgado que cabe aqui ser citado, o caso Jalloh c. Alemanha[3], julgado em 11 de junho de 2006, a Corte Europeia de Direitos Humanos concluiu que “o direito de não se autoincriminar impõe que se respeite a vontade do arguido de não falar e manter o silêncio, no entanto, este direito não contempla a impossibilidade de utilização no processo de meios de prova que sejam obtidos através do arguido independentemente da sua vontade (ou mesmo, contra a sua vontade) por poderes de autoridade, tais como (…) recolha de amostras e exames de sangue, urina, saliva, cabelo, voz, ou recolha de outros tecidos orgânicos para a realização de testes de DNA”[4]
Outra não é a posição ainda da Corte Constitucional Italiana, conforme Sentença 238, de 9 de julho de 1996, da Corte Constitucional, assim como a posição do Tribunal Constitucional Espanhol, conforme Sentença 207/1996, tratando da possibilidade de intervenções corporais e provas invasivas a partir de regulamentação legal[5].
Joel Tovil[6], ao tratar do tema, discorre que “a pequena intervenção no corpo do investigado pouco afeta a sua dignidade, sendo que a restrição dos direitos está plenamente justificada diante do bem maior do interesse público na apuração do hediondo crime cometido”.
Da mesma forma, ao apreciar o tema da garantia contra a autoincriminação, a Suprema Corte norte-americana, no caso conhecido caso Schmerber v. California (1966), adotou a clássica distinção entre os procedimentos coativos que requerem a participação ativa do acusado daqueles em que o acusado se trata apenas de uma simples fonte passiva de elementos de prova contra si próprio. Nessa segunda situação, entendeu não haver violação ao nemo tenetur se detegere.
Ainda acerca do caso Jalloh c. Alemanha, importante mencionar algumas conclusões da Corte Européia de Direitos Humanos, que fatalmente enseja interpretação no sentido de permissivo à extração compulsória de DNA:
VI – Contudo, a realização forçada de um qualquer acto médico com vista à obtenção de prova sobre a prática de um crime tem de encontrar justificação convincente nos factos do caso; isto é particularmente verdadeiro naqueles casos em que o acto médico a praticar é especialmente intrusivo, destinando-se a recolher do interior do corpo do indivíduo/suspeito a prova do crime que se suspeita aquele tenha cometido – o carácter particularmente invasivo dessas intervenções exige um escrutínio rigoroso de todas as circunstâncias envolventes, devendo ter-se em conta a gravidade da infracção em causa, sendo que as autoridades têm de demonstrar que ponderaram a utilização de métodos alternativos para a recolha da prova, e que do método (acto ou intervenção) escolhido não decorrerão danos duradouros para a saúde do suspeito.
Assim, o que se observa é que a interpretação da garantia constitucional foi objeto de extensão muito além de seus limites por parte doutrina brasileira e seguida em parte pela jurisprudência, dando ao mandamento constitucional uma amplitude muito além do razoável. Como bem coloca Marcelo Albuquerque[7]: “a doutrina parece reconhecer, com pequeníssima margem de hesitação, a existência do citado instituto, dando à expressão ‘não produzir’ uma acepção tão ampla que se estende para além de seus significados semântico e jurídico, abrangendo então a ideia de que o sujeito passivo de um processo penal ou de uma investigação criminal não pode ser compelido sequer a participar, prestando qualquer forma mínima de colaboração de uma atividade probatória cujo resultado lhe possa ser, eventualmente, prejudicial”.
Merece destaque, nesse sentido, voto do ministro Napoleão Nunes Maia, em Habeas Corpus julgado pela 5ª Turma do STJ, segundo o qual o princípio não abrange a possibilidade de os acusados alterarem a cena do crime: “Uma coisa é o direito a não autoincriminação. O agente de um crime não é obrigado a permanecer no local do delito, a dizer onde está a arma utilizada ou a confessar. Outra, bem diferente, todavia, é alterar a cena do crime, inovando o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, para, criando artificiosamente outra realidade ocular, induzir peritos ou o juiz a erro”.
Acertadamente, Eugênio Pacelli[8], segundo o qual a vedação à autoincriminação deve se manter circunscrita aos limites do direito de não depor contra si, de não se declarar culpado, bem como de não se submeter às intervenções corporais ilegítimas.
Assim, o objetivo do presente artigo foi evidenciar o quão distante da redação do texto constitucional e de textos internacionais como o Pacto de San José da Costa Rica se encontra a interpretação doutrinária do “direito ao silêncio”, no sentido de levar o tema à reflexão, sobretudo a luz da acepção, indicada por Marcelo Albuquerque[9], onde o direito penal “não deve ser visto como o grande inimigo da liberdade, mas como responsável pela missão ímpar de proteger os bens jurídicos mais importantes contra as agressões mais intensas”.