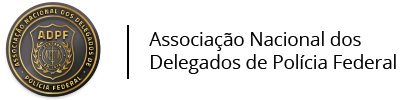O Ministério Público e a Polícia Judiciária
1. Sabe-se que o regime democrático não sobrevive em terra em que a liberdade não viceja. A nação que se pretenda democrática cuida de inserir em sua constituição cláusulas de garantia das liberdades de seus cidadãos. Nenhuma nação democrática, no entanto, garante liberdades irrestritas. A contrapartida de toda a liberdade é a responsabilidade. Em nenhum país civilizado as pessoas atuam livres de peias, porque tão importante quanto a liberdade do homem é a ordem pública; porque tão nociva quanto a privação das garantias individuais é a desordem e a insegurança.
O Estado, nesse contexto, não somente é o ente dotado da incumbência de impor as normas disciplinadoras dos direitos e dos deveres, como também é o encarregado de intervir, à mão-tenente, para a manutenção e para o restabelecimento da ordem pública. A existência de uma estrutura de segurança pública, dotada de meios de prevenção e de repressão, é, portanto, fundamental para a garantia da normalidade da sociedade civil.
2. Não existe um modelo universal de segurança pública. Cada país estrutura o seu sistema de segurança de acordo com as suas particularidades. Em verdade, mais importante do que o modelo é a eficiência do sistema. Um sistema eficiente é aquele que assegura a ordem com um mínimo de sacrifício das liberdades da população. Sempre que o sistema perde eficiência, as liberdades são sacrificadas na mesma proporção. É o que se percebe, infelizmente, em nosso país: o sistema mostra sinais nítidos de baixa eficiência: é assaz ilustrativo o fato de que as residências foram-se transformando em bunkers à medida em que as leis penais iam sendo abrandadas para que se ajustassem ao discurso ideológico da vitimização do bandido.
Várias são as razões para a perda de eficiência de um sistema de segurança pública, mas é indiscutível que, sem uma clara e bem definida divisão das funções e dos limites dos órgãos que compõem o aparelho de segurança estatal, não há sistema que opere satisfatoriamente. E esse é um dos nossos problemas. Desde que a atual Constituição entrou em vigor, reina a discordância em torno das atribuições e dos limites dos órgãos que compõem o aparelho de segurança estatal. Os desentendimentos, aliás, vinham de longe. De há muito se percebia, v.g., que a tentativa de separar o policiamento preventivo do repressivo e de atribuí-los privativamente a instituições policiais distintas, era fonte de intermináveis dissensões.
3. A Constituição de 1988, no anelo de dar solução às desinteligências, criou o controle externo da atividade policial, a cargo do Ministério Público (MP), sem, contudo, precisar os fins específicos e os meios de ação do novo instituto. Coube à lei complementar a regulamentação do controle externo. Após quase três décadas, a matéria não foi regulamentada, ao menos de modo claro, preciso e exaustivo. À mingua de norma, o controle externo da atividade policial, longe de dar solução, tornou-se ele próprio a fonte de novos embates. Sem lei, o MP argutamente “forçou passagem” por entre as frestas do ordenamento, servindo-se sobretudo do pouco que detinha (poder de notificar e de requisitar documentos e perícias). Gradualmente, o MP foi-se embrenhando no terreno da investigação criminal, de início com a justificativa de complementar a prova deficiente, depois com o pretexto de suprir as falhas da autoridade policial, até que, por derradeiro, arvorou-se impavidamente nas lidas da polícia judiciária. Não tardou para que ações penais fossem ajuizadas com base em investigações das quais a autoridade policial não tinha controle nem ingerência. Sindicâncias e inquéritos administrativos, relatórios e procedimentos de comissões parlamentares de inquérito, documentos extraídos algures, tudo servia, à guisa de “peças informativas”, para a instrução de denúncias.
4. Nunca faltaram vozes a questionar a legitimidade do MP para a investigação criminal, mas quando a questão chegou às portas do Supremo Tribunal Federal (STF), o MP já havia consolidado uma situação irreversível, de modo que o reconhecimento de sua ilegitimidade importaria na nulidade de um sem-número de processos, muitos com condenações e trânsito em julgado. As implicações seriam de tal ordem que o STF optou por consagrar o erro. Sob a pena do Ministro Gilmar Mendes, dispositivos constitucionais que nada diziam sobre permitir ao MP investigar crimes, passaram a não proibi-lo (RHC 97926). De acordo com o Ministro Gilmar Mendes, o MP poderia agir já que nenhuma lei o proibia de fazê-lo. De chofre, o primado da legalidade era virado pelo avesso.
5. Sobreveio, então, a PEC 37, cuja finalidade era atribuir às polícias a exclusividade da investigação criminal. A proposta desencadeou um movimento nacional que contou com tudo, principalmente com a desinformação. No embalo dos movimentos de rua, ativistas pró-MP foram às ruas fazer figuração nas arruaças dos black blocs. Em horário nobre, o performático Arnaldo Jabor, com seus rompantes histéricos de indignação fingida, bradava pelo fim da impunidade. A proposta de emenda, é claro, soçobrou.
6. Muitos dos argumentos levantados por ocasião da PEC 37 permanecem mal respondidos. Inúmeras objeções foram contrapostas ao poder de investigação do MP e, porque não foram enfrentadas satisfatoriamente, continuarão permitindo ao MP expandir os horizontes de suas pretensões. Disseram, os arautos da atuação do Parquet, que a subtração do poder de investigação do MP resultaria em sérias conseqüências. Passarei a analisar os principais argumentos.
6.1. Disseram que emenda retirava poderes do Ministério Público.
A afirmação é falsa. Com efeito, não se pode retirar o que jamais existiu. A legislação, constitucional ou infraconstitucional, nunca atribuiu ao Parquet a função em questão. O que de fato aconteceu foi que o MP havia recebido da Constituição um considerável acréscimo em suas atribuições (meio ambiente, consumidor, interesses difusos e coletivos), e, com as atribuições, ganhou valiosos instrumentos de atuação, como o inquérito civil e a ação civil pública. São, porém, instrumentos destinados a lides de natureza cível e não, criminal. Com o advento da Lei de Improbidade, as hipóteses de intervenção do MP assomaram-se formidavelmente. A Lei nº 8.429 constituiu-se um instrumentos importantíssimo de investigação, permitindo ao MP singrar por mares nunca dantes navegados. Ocorre que referida lei também não tem natureza criminal; as penas ali previstas não incluem prisão, mas somente multa, perda do cargo, ressarcimento de danos e suspensão de direito políticos. São penas de natureza administrativa, civil e política. Sem embargo, durante muito tempo o MP lançou mão da prova produzida em suas investigações civis para instruir denúncias. Ou seja, muito do que o MP propalou como sendo decorrência de suas investigações criminais, era apenas prova emprestada de inquéritos civis e de ações civis públicas. Em verdade, o MP não apenas não detinha poder de investigação criminal como também dele prescindia para fundamentar suas denúncias. Na imensa maioria dos casos, fê-lo por seus próprios meios (meios cíveis). É bem verdade que recentemente os tribunais começaram a restringir o uso da prova emprestada. Mas isso não invalida a constatação de que o MP reivindica algo que nunca possuiu; de que reivindica algo que, ainda que possuísse, quase sempre dele prescindiu.
Nem mesmo o fato de ele ser o destinatário da investigação policial, na qualidade de dominus litis, confere-lhe a prerrogativa de investigar. Esse argumento veio sempre na esteira do raciocínio de que “quem pode o mais pode o menos”. Afirmava-se que seria incoerente que o Parquet, que é responsável pela persecução penal, fosse impedido de apurar por si os fatos criminosos que lhe são destinados: “quem pode denunciar pode investigar”. Ocorre, porém, que o argumento de que “quem pode o mais pode o menos”, que é muito adequado ao reino da física, presta um desserviço ao direito, mormente ao direito público, por sua absoluta impropriedade. Em direito público voga o primado da competência, vale dizer, o agente público está adstrito às atribuições de seu cargo, as quais devem ser necessariamente definidas por lei. A realização de ato não previsto na esfera de competência do agente público tipifica abuso de autoridade. Com efeito, seria de se perguntar ao iluminado autor desse sofisma o seguinte: o mesmo raciocínio aplica-se ao juiz? Se o promotor pode investigar porque pode denunciar, o juiz, que pode condenar, pode, pela mesma lógica, denunciar e até mesmo investigar? E não se diga que o juiz deve ser imparcial, porque o promotor também precisa ser; o MP é sabidamente uma parte-imparcial. Entre os atos de investigar, de denunciar e de sentenciar não há uma relação de “mais” e “menos”. Juridicamente, investigar não é “menos” do que denunciar. Não há uma relação de grandeza; há uma relação de pertinência definida pelo legislador.
Por fim, é preciso lembrar que todos os poderes pertencem ao Estado do qual o MP e as polícias são órgãos. A distribuição das competências estatais é uma decisão política de governo, que se organiza de acordo com realidades variáveis no espaço e no tempo. Nenhum órgão estatal, por isso, é “dono” das funções estatais. Quando muito, é seu eventual detentor.
6.2. Disseram que a perda do poder de investigação seria fator de impunidade, pois enfraqueceria o combate à criminalidade organizada e à corrupção.
Decididamente, a sinceridade não foi convidada para o debate. A bem da verdade, a PEC 37, se aprovada, teria recolocado as coisas em seus devidos lugares: a função de polícia judiciária pertence à polícia.
As pessoas, em geral, têm uma noção equivocada sobre a atuação do MP, ao menos nesta questão. Elas acostumaram-se às notícias de que o MP investigou fulano, “prendeu” beltrano, denunciou cicrano, em regra políticos ou agentes públicos flagrados em promiscuidade com a coisa pública, e apressam-se em creditar ao Parquet os louros da façanha. Não sabem, no entanto, que as investigações que dão base a essas denúncias são realizadas, muita vez, pela polícia, por forças-tarefas ou por comissões parlamentares de inquérito. Não raro, o MP participaria da investigação como coadjuvante. São poucos os casos em que o MP, de per si, terá iniciado e concluído uma investigação criminal. É que os crimes de grande repercussão, como aqueles que envolvem o erário, evasão de divisas, tráfico de influência e quejandos, não podem, por sua complexidade, ser apurados sem perícia, quebra de sigilo, monitoramento e muito, muito trabalho de campo e de equipe. O MP não possui estrutura para tal arte, e nem deveria possuir, pois não seria condizente com a sua destinação constitucional. Por isso, sempre que o MP decide agir por conta própria na apuração de ilícitos penais, termina na dependência da polícia para lhe suprir as deficiências que lhe são intrínsecas.
Somente a ignorância generalizada, associada a uma campanha muito bem orquestrada, poderia convencer a opinião pública de que a PEC 37 seria causa de impunidade. Essa afirmação, insistentemente repetida feito mantra, podia ser dita, mas não podia ser provada. E não podia ser provada por três razões ainda hoje vigentes: 1ª) o MP vale-se, para fundamentar denúncias, de investigações levada a cabo por meio de instrumentos que, originariamente, foram-lhe atribuídos para a apuração de ilícitos não-criminais (improbidade administrativa, dano ambiental etc.); logo, a aprovação da PEC 37 teria pouca influência sobre a sua atuação; 2ª) o MP age de modo seletivo e parcimonioso, de maneira que a sua atuação é estatisticamente pouco significativa; 3ª) o MP não computa a sua taxa de insucesso, ou seja, os casos em que os acusados são absolvidos. Assim, se considerarmos as absolvições nas investigações em que o MP atuou de per si, sem o socorro da polícia e sem o subsídio de peças informativas emprestadas de sua atividade na esfera cível, a sua atuação será estatisticamente nada significativa.
O MP blefou quando disse que a PEC 37 seria causa de impunidade.
Por outro lado, a afirmação de que a PEC, se aprovada, seria fator de impunidade, trazia consigo o mau vezo de lançar suspeitas sobre a idoneidade e a capacidade técnica das polícias, o que é imerecido. Basta que se passe em revista o Conselho Nacional do Ministério Público e as Corregedorias dos MPs para verificar que os paladinos da justiça cometem amiúde os mesmos desatinos e desvios de conduta que a média dos agentes públicos, a contrariar a pretensiosa reputação de guardiões inabaláveis da retidão nacional. Ademais, é preciso reconhecer que as polícias evoluíram consideravelmente: são hoje estruturas mais bem equipadas e treinadas do que o foram no passado. Quem conhece as estruturas dos MPs e as das polícias, não terá dúvida sobre a quem atribuir a responsabilidade pela investigação criminal. É claro que aqui e ali a polícia ainda carrega deficiências e ranços, mas com o MP não é diferente: as deficiências e ranços são comuns a ambas as instituições quando seus membros estão colocados em situações análogas. Não é difícil perceber que há pessoas desinteressadas e mal preparadas em todos os cantos da administração.
6.3. Disseram que os polícias não têm as prerrogativas constitucionais do MP.
De todos os argumentos, esse é mais descarado. Estivessem os membros do MP realmente preocupados com o interesse público, como propalaram aos quatro ventos, teriam tido a hombridade de desistir da oposição à PEC 137, em troca de que se atribuíssem aos policiais, na mesma Ementa, as prerrogativas da inamovibilidade e da vitaliciedade.
6.4. Por fim, disseram que o MP não desejaria substituir a polícia em seu trabalho nem com ela competiria, mas apenas estaria a realizar o controle externo, a atuar em casos específicos.
Decididamente, aqui a franqueza foi defenestrada. O propósito do MP não é somente exercer o controle externo. O exercício do controle externo, nele compreendida a investigação criminal, é aquilo que na linguagem da caserna se denomina “cabeça de ponte”: consolidar o controle externo significava assegurar uma cabeça de ponte. Tenho, para mim, que essa impostura do MP só pode ser explicada por duas razões.
6.4.1. A primeira: toda essa disputa por funções é uma luta por poder e prestígio.
Quando eu ingressei no Ministério Público de Minas Gerais, nos idos 1985, a sede da instituição estava instalada em cômodos acanhados de um pequeno edifício situado na esquina da Avenida do Contorno com a Rua da Bahia, em Belo Horizonte. A estrutura era precária, o mobiliário e a frota de veículos (não mais que meia dúzia de viaturas de segunda mão) provinham de outros órgãos da Administração Pública. No interior do Estado, as promotorias não possuíam estrutura: estavam instaladas em fóruns velhos e tudo que as guarnecia pertencia ao Judiciário, à prefeitura ou ao próprio promotor. A partir de 1988, a Constituição projetou o MP de uma maneira surpreendente. O conjunto das novas atribuições, aliado ao empenho de seus membros em assumir efetivamente as tarefas que lhes haviam sido confiadas, dava ao Parquet projeção outrora impensável. Como conseqüência, o MP cresceu em todos os sentidos, principalmente no prestígio dentro da estrutural estatal: independência administrativa, autonomia financeira e orçamentária, iniciativa própria das leis que organizam sua estrutura e que regulam suas prerrogativas. Enfim, tornou-se de fato um quarto poder. Daquela acanhada sede da Avenida do Contorno, o MP mineiro saiu para tornar-se uma instituição grande e respeitável, cujo orçamento equipara-se, hoje, ao do Município de Uberaba, uma próspera cidade do Triângulo Mineiro, com mais de trezentos mil habitantes.
Os MPs perceberam rapidamente que havia uma correlação entre o aumento das atribuições e o crescimento de suas estruturas: o aumento das atribuições propiciava o crescimento da estrutura, principalmente quando se tinha à mão um leque de atribuições que permitisse uma boa exposição na mídia e que fosse ao encontro dos anseios da população. Estavam lançados os fundamentos de uma lógica circular muito simples: atribuição traz prestígio, que traz orçamento, que traz poder, que traz atribuições, que traz prestígio… Por conseguinte, perder atribuição significava perder prestígio e poder. Por isso, antes e depois da PEC 37, o MP luta por poder e prestígio.
6.4.2. A segunda razão: O MP almeja assumir o poder de polícia judiciária.
Antes de expor a segunda razão, impõe-se uma explicação preliminar.
Embora sejam coisas correlatas, o poder de “investigar” não compreende necessariamente o “poder de polícia”. O poder de polícia é a prerrogativa que permite à autoridade restringir liberdades individuais e coletivas. O delegado de polícia, detentor de poder de polícia judiciária, pode prender e autuar em flagrante, fixar fiança, preservar o local do crime, proceder à busca pessoal e à apreensão de coisas, instrumentos, armas e produtos do crime, interditar estabelecimentos, conduzir coercitivamente suspeitos e testemunhas, conforme o CPP. Nesse sentido, o delegado de polícia é uma autêntica “autoridade”. O MP, nada obstante o fato de haver recebido o poder de investigar certos ilícitos (não-criminais), não detém poder de polícia. Mesmo quando preside o inquérito civil, não pode impor limitação à liberdade e aos bens das pessoas que investiga. Sempre que necessárias e cabíveis medidas restritivas da liberdade, estará adstrito a duas alternativas: requerê-las ao Judiciário ou requisitá-las de autoridades administrativas (Ibama, v.g.). Nesse sentido específico, o MP é carecedor de autoridade.
Dito isso, a segunda razão é a seguinte: compartilhar com a polícia o poder de investigação criminal é apenas o modo de assegurar um ponto de partida (a cabeça de ponte) para a obtenção de outro objetivo: tornar-se destinatário do inquérito policial, sem a intermediação do juiz. Feito isso, o MP tornar-se-á o senhor da investigação e da ação penal, atrelando ao seu comando toda a atividade de polícia judiciária (a investigação criminal e o poder de polícia). Será apenas uma questão de tempo para que se reconheça no MP a autoridade a quem a polícia deverá subordinar-se.[1]
7. Divisando os desdobramentos dos fatos no cenário atual, não é difícil perceber o quão próximo de seus desígnios está o MP. No STF, a Polícia Federal sofreu verdadeiro capitis diminutio com a decisão que a proíbe de investigar de ofício agentes públicos com prerrogativa de foro. Não tardará para que o entendimento alcance os Estados, impondo semelhante perda de autoridade à Polícia Civil. No Congresso Nacional, a PEC 73 quer instituir a carreira única na Polícia Federal. Se aprovada, delegados e agentes integrarão a mesma carreira, o que implicará, por decorrência natural, não só na extinção do cargo de delegado, mas também na supressão do único servidor público que, na esfera da polícia judiciária, possui obrigatoriamente formação jurídica. Entrementes, no STF, a Adin 5073 visa a retirar do mundo jurídico a Lei nº 12.830/13, que torna o cargo de delegado privativo de bacharel em direito e dá natureza jurídica à sua função investigativa. Não é de estranhar-se que, em ambos os casos, o MP tenha manifestado sua concordância por meio de parecer favorável à Adin 5073 (parecer do Procurador-Geral da República) e por meio de apoio à PEC 73 (“nota técnica” da Associação Nacional dos Procuradores da República). Convém aos anelos do MP subtrair da polícia o crivo jurídico da investigação criminal e do poder de polícia, porque, com isso, a figura do delegado perde importância ao ponto de tronar-se dispensável. Enquanto isso, no Parlamento, o anteprojeto do novo Código de Processo Penal elege o MP destinatário do inquérito policial, sem a intermediação do juiz.
Deveras, se António Gramsci fez discípulos no Brasil, o MP foi seu aluno mais bem aplicado.
Confira o artigo no site original AQUI